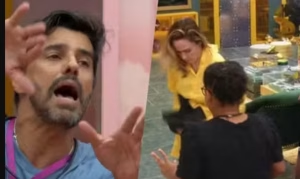Julieta: o que choca no filme de Almodóvar é a possibilidade do real
O mais novo filme do cineasta espanhol é mais contido e frio, mas garante emoção e arrebatamento ao contar uma história em que a ausência é um fardo

Júnior Bueno
A filmografia do diretor espanhol Pedro Almodóvar é tão rica que, depois de sair maravilhado da sessão de um de seus filmes, é difícil dizer com convicção que acabou de se ver um de seus melhores trabalhos. Apesar de não ter obtido a mesma unanimidade crítica que obras anteriores, Julieta, em cartaz em Goiânia, é um exemplar tão belo em sua estrutura quanto na maneira delicada como explora a dor de sua personagem-título, apresentada aqui em duas fases, como uma jovem e uma mulher madura.
A estrutura narrativa lembra a de filmes da década de 1950, sejam os dramas de Douglas Sirk ou os suspenses de Alfred Hitchcock. A acertada trilha sonora de Alberto Iglesias acentua isso, dando um ar de thriller em alguns momentos, ainda que o filme não apresente assassinatos ou coisas do tipo. Não há crimes, mas não quer dizer que não haja mortes, e que essas mortes não surjam para causar não apenas luto, mas um sentimento forte de culpa, uma das forças motrizes do filme.
A crítica especializada ainda não se decidiu se este filme está entre os melhores ou os piores filmes do cineasta. E este é o grande trunfo de Julieta: não ser óbvio, não ser o clichê de filme almodovariano, nem tão pouco ser o extremo oposto disso. É um ponto interessante entre as histórias fortes que o espanhol já contou.
Certamente é um passo adiante do sombrio A Pele que Habito e do frívolo e insatisfatório Amantes Passageiros. Talvez, pela temática, se aproxime de Abraços Partidos. Ou seja, não se espera aquele humor ferino e descabelado que fez a fama do diretor espanhol tampouco da gritaria frenética de Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, sempre pulverizada pelos filmes do doretor. Essa diferença talvez seja por não se tratar de uma história original, e sim de uma adaptação, como sempre, muito livre, de contos da canadense Alice Munro, Prêmio Nobel de Literatura 2013.
Há muito do universo Almodóvar, no entanto, para garantir o interesse. Apesar de ser um filme mais ‘frio’ do diretor, as famosas cores de Almodóvar ainda se fazem presente. O azul e o vermelho pontuam cada sequencia, das formas mais sutis às mais óbvias. A ponto de a certa altura, a plateia já esperar para saber onde as cores estarão presentes. É um jogo interessante.
E há a volta da impagável Rossy de Palma, interpretando Marian, uma empregada sinistra, digna de figurar em qualquer terror vitoriano inglês. Ela insere uma nota sempre ligeiramente atemorizante e uma nesga de humor negro. No mais, não se encontra espaço para ironia. Outro rosto conhecido de volta é do ator argentino Dario Grandinetti, de Fale com Ela.
A protagonista, Julieta, é interpretada por duas atrizes – em papeís de jovem e madura. A jovem é interpretada pela belíssima Adriana Ugarte, que vive a fase em que esta professora de mitologia grega conhece, num trem, um atraente pescador, Xoan (Daniel Grao). Ele é casado e sua mulher está em coma. Mas Julieta e ele vivem uma noite de amor, no trem, que sofreu uma brusca parada devido ao suicídio de um homem. As sequências no trem, inclusive, gritam “eu amo Hitchcock,” em trilha e tomadas que homenageiam e/ou emulam o mestre do suspense.
Julieta e Xoan têm uma filha, Antía (Blanca Parés, na adolescência), que está no centro do grande drama da vida da Julieta madura (Emma Suárez). Anos depois de uma tragédia familiar, Antía sumiu da vida da mãe, que entrou em depressão. Quando finalmente ela está encontrando um novo eixo e possibilidade de uma nova vida, reencontra uma amiga de infância da filha e o drama recomeça. A partir daqui, o filme poderia bem se chamar “tudo sobre minha filha.”
Cada detalhe, cada momento do filme é rico em significado, desde a cena em que Julieta, então uma jovem professora substituta de Literatura, fala para seus alunos sobre o mar e a trajetória rumo ao desconhecido de Ulisses, passando pelas impressionantes sequências dentro do trem – o homem estranho, o cervo, o encontro com o namorado, a morte e o sexo –, tudo isso já causa um prazer imenso no espectador que aprecia uma boa história.
O real motivo pelo qual o título anterior do filme era Silêncio, por exemplo, só será entendido a partir, pelo menos, dos eventos mostrados na segunda metade da narrativa, que envolverá morte, luto, depressão e a ausência de uma pessoa querida. E não é preciso ser mãe para entender a dor da protagonista – a procura da mulher por uma pista, por menor que seja; uma carta; um sinal de que a filha ainda existe. A ausência é um fardo pesado.
Talvez o filme soe frio pela inexistência do melodrama. Há dor, mas sem necessidade de lágrimas. As lágrimas seriam até um alento para a personagem, mas isso não lhe é concedido. Almodóvar não queria lágrimas, ele queria uma imagem forte de seu abatimento, o acumulado de anos e anos de dor. Quem, por exemplo, já passou – ou está passando – pela necessidade de ter que esquecer alguém que amou muito pode entender um pouco o que a personagem sente.
E Almodóvar nos entrega este presente numa embalagem muito bonita, vermelha e azul, mas desta vez sem as tradicionais perversões presentes em outras de suas obras. Não é o escárnio do surreal que choca, mas como é real e próxima a história de uma mãe que sofre. Há quem vá dizer que é um exemplar mais contido da carreira de Almodóvar. Mas essa contenção é também necessária para que o choro fique entalado na garganta durante toda o filme. Almodóvar está de volta, mas algo mudou.
Confira o trailer: