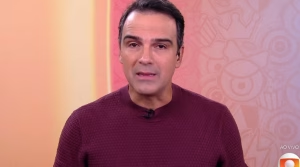Cinebiografia e Elis Regina promete demais e cumpre de menos
Filme promete contar a história de um furacão, mas mostra apenas um redemoinho

ELISAMA XIMENES

Quem assiste a Elis, longa-metragem biográfico lançado na última quinta-feira (24), vê um pedaço da história da maior cantora brasileira de todos os tempos passar como um redemoinho fraco. Desses que criam a expectativa por um quase-furacão, prende no que antecede e em seu início, mas depois mostra que não passou de uma leve ventania costumeira. Aquele levantar de poeira rápido e superficial que chega a parecer que não se viu o término do círculo inicialmente provocado.
Não precisa ser fã para saber que Elis Regina não era redemoinho. Também chamá-la de furacão chega a ser sensacionalista. Fiquemos com a metáfora da pimenta mesmo. E, de fato, Andréia Horta deixou a Pimentinha continuar sendo a malagueta que era, mas o roteiro fez sua história cheirar mais do que arder. Quer dizer, o problema não está na interpretação da atriz; pelo contrário: vem antes disso e está nas mãos de Hugo Prata, diretor e um dos roteiristas da cinebiografia.
O filme começa com Elis cantando Como Nossos Pais, uma das canções consagradas em sua voz. A interpretação de Andreia arrepia. Apesar de a voz ser da própria Elis, a atriz conseguiu imprimir, em gestos e pular de veias e olhos, o jeito da intérprete. Mas, de longe, o que mais encanta nas semelhanças entre as duas é o sorriso. Ambas de dentes relativamente pequenos e gengivas grandes abrem um sorriso quase que igual. “Mas a gengiva dela era maior”, disse Andreia no programa Altas Horas (Rede Globo). A fidelidade da personagem também é física, mas a atriz não deixou a desejar nas outras características – na medida em que o roteiro lhe permitia.
A história da Pimentinha começa a ser contada a partir de sua ida ao Rio de Janeiro em 1964, mesmo ano do golpe militar. E o contexto da ditadura militar é bem trabalhado, durante o filme, apesar de deixar alguns furos na relação de Elis com o período. Mas, ainda assim, mostra quando foi ameaçada por militares por tê-los chamado de “gorilas”, quando foi obrigada a cantar para eles, e, depois, foi a voz da música símbolo da anistia – O Bêbado e O Equilibrista. Antes disso tudo ocorrer em 1964, ela chega ao Rio com o pai para gravar um disco, mas na cidade percebe que as coisas não aconteceriam como o previsto. O que não impede que a gaúcha ache um jeito de permanecer na capital e ser conhecida pela nata da Bossa Nova.
É aí que conhece o nova-iorquino Lennie Dale (Júlio Andrade), artista da Broadway que veio ao Brasil na década de 1960 e se tornaria um grande amigo de Elis. É também quando conhece o multiuso Luís Carlos Miele (Lúcio Mauro Filho) e seu parceiro Ronaldo Bôscoli (Gustavo Machado), ambos grandes produtores daquela época. O que se segue a isso é o início de sua carreira, com um pincelada pela apresentação do programa Fino da Bossa ao lado de Jair Rodrigues (Ícaro Silva). Nesse momento, o filme faz a sua primeira passagem de tempo abrupta, em que, de repente, o programa já está ultrapassado, e a dupla Elis e Jair têm de contar com a ajuda de Bôscoli e Miele para se reerguer.
Todo o roteiro é marcado por essas passagens, às vezes identificadas por diálogos ou por mudanças no cabelo de Elis. O que revela uma possível tentativa de contar um período longo da vida da cantora, mas sem se aprofundar nos fatos e detalhes. Por isso, muitos fieis à sua história sentiram falta de alguns fatos e personagens importantes que cruzaram a vida da cantora. Ou, como alguns têm arriscado em dizer, trata-se de um filme feito para virar mais uma minissérie biográfica a se passar no horário nobre da Rede Globo. Assim como fizeram com o filme sobre o Tim Maia – que virou um especial de fim de ano global.
A falta de gente como Milton Nascimento, Rita Lee e Tom Jobim incomoda fãs. O último, inclusive, só é mencionado no início do filme, quando ainda não havia reconhecido o talento em Elis – reconhecimento que se consolida em forma de álbum com o clássico Elis e Tom. Milton, que foi um dos principais compositores das músicas cantadas por ela, não esconde que Elis foi o grande o amor de sua vida e, no entanto, somente sua voz aparece nas cenas finais fazendo trilha à morte da protagonista. Rita Lee, que no início era ignorada pela Pimentinha por causa do uso da guitarra, depois se tornaria uma grande amiga, quando Elis foi visitá-la na prisão. Há quem diga que o nome da caçula, Maria Rita, tenha sido uma homenagem a ela. Mas tudo bem. É rigoroso também exigir que uma biografia dê conta de todos os fatos e personagens da vida de alguém.
Entretanto a ausência de personagens como os citados e tantos outros também pode ser explicada por um foco estranho do roteiro dado aos relacionamentos amorosos de Elis. Com isso, a música e a carreira dela quase que ficaram periféricos na produção. Quem não conhece sua história pode até pensar que ela era a Elis dos homens. Primeiro de Bôscoli, um pouco de Nelson Motta (Rodrigo Pandolfo) e, depois, de César Camargo Mariano (Caco Ciocler)– isso porque nem mencionaram que ela estava namorando o advogado Samuel Mac Dowell quando morreu. Parece que tudo o que conhecemos dela teve influência desses homens e, somente, deles. A construção da personagem tenta mostrar a Elis intempestiva que os enfrentava e se posicionava. Mas, ao mesmo tempo, tenta justificar cada decisão por uma influência masculina como se ela fosse uma mera ‘Maria vai com os outros’.
Na verdade, Elis era extremamente competitiva e, por isso, foi razoavelmente aberta a mudanças e adaptações em sua carreira. Mas, nem de longe, os homens seriam a grande motivação. A razão maior estava no fato de Elis ser Elis e, não à toa, ganhou o apelido de Pimentinha. E aí, nesse sentido, sentimos falta dessa pimentinha na personagem do filme. O que não é falta da atriz, mas da personagem construída pelos roteiristas e diretor. Lúcio Mauro Filho, que deu vida ao Miele, inclusive, explica isso, em uma entrevista, quando diz “esse é o meu Miele”, porque, de fato, não há como simplesmente incorporar por completo alguém que foi real em uma biografia.
A produção, no geral, é de se aplaudir. A fotografia, especialmente no começo do filme, impressiona e encanta. É de se perceber o quanto o cinema nacional tem evoluído e se mostrado capaz de fazer grandes produções. Os planos nos aproximam da história e tornam a narrativa mais intimista. A emoção que se sente ao longo da história é digna de uma narrativa clássica bem construída, com linearidade explícita, apesar das interrupções da relação de causa e consequência com as passagens de tempo. As cenas finais, que mostram a morte de Elis, são as responsáveis pelo ponto alto de emoção e empatia. A voz de Milton Nascimento, ao fundo, somada aos closes em câmera lenta, nas crianças, deixa o telespectador apreensivo e sua perda desnorteia. Apesar das falhas, Elis, o filme, nos leva de volta à sua época, também, de ditadura militar. Perdemos o rumo ao perceber que ela se foi sem ver o início da redemocratização – que, tão nova, já pende novamente. E sentimos falta da pequena dona da maior voz brasileira de todos os tempos.
(Foto: reprodução)