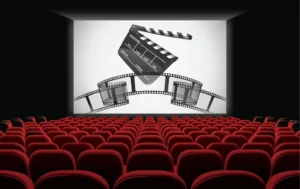Estrelas além do título
Mais importante que contundente, o filme ‘Estrelas Além do Tempo’ tem o mérito de trazer à tona histórias de mulheres negras que foram apagadas pela história


Júnior Bueno
Se tem uma profissão que opera com um pé no intrigante e outro no bizarro é o de traduzir os nomes dos filmes gringos para o mercado brasileiro. Não é possível que alguém achou que Hidden Figures, algo como “Figuras Ocultas” seria mais atraente ao telespectador brasileiro se mudasse o nome para “Estrelas Além do Tempo”. O título não quer dizer exatamente nada sobre o filme, a não ser uma ligação forçada entre ‘estrelas’ e a Nasa, agencia espacial onde o filme se passa. Além disso, parece mais nome de filme espírita, do estilo Nosso Lar, do que de filme sobre a história de três matemáticas negras nos anos 1960.
Descontado o incômodo da horrorosa tradução, passemos ao filme em si. Logo no começo, baseado em uma história real, três mulheres negras estão paradas à beira da estrada com o carro enguiçado. Ao serem abordadas por um policial – branco –, elas temem pelo pior. Afinal, como é devidamente sublinhado no texto mais de uma vez em menos de cinco minutos, elas estão na América de 1961, auge do segregacionista, onde leis separavam negros de brancos nos banheiros, nos ônibus e em todos os locais públicos. O guarda se revela surpreso pelo fato de a Nasa contratar mulheres negras para um ofício tão importante, e no fim acaba ajudando as protagonistas, afinal, elas são importantes no processo de colocar um americano no espaço antes da Rússia.
Toda a história de Katherine G. Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughan (Octavia Spencer) e Mary Jackson (Janelle Monae), no filme, é pontuada por momentos assim. Sempre que elas se deparam com uma situação injusta causada por racismo, sempre tem um personagem branco que resolve agir, não porque seja realmente contra o racismo, mas porque as funcionárias são peças importantes na engrenagem. Um exemplo é quando a brilhante Katherine explode, depois de dias da humilhação, que é só poder ir ao banheiro específico para negros que fica em outro prédio, distante. O chefe Al Harrison (vivido pelo veterano Kevin Costner) tem um gesto grandioso de derrubar as placas dos banheiros. Não porque se importe com os direitos civis, mas porque não quer que a funcionária se atrase para ir ao banheiro. E, no fim, ainda discursa de forma piegas: “Na Nasa, todos urinamos da mesma cor”.
O problema de Estrelas é exatamente ser uma sequência de cenas ‘grandiosas’ que, sem nenhum aprofundamento, acabam por esvaziar as que realmente poderiam render mais emoções. E, ao retratar a sociedade racista sem de fato explicar por que ela é assim, pega leve demais com as personagens brancas, porque, afinal, ‘sempre foi assim’. É um retrato de uma época que precisa ser relembrada e discutida, mas que é vista com distanciamento, quase do espaço. É um filme que quer denunciar o racismo, mas sem se envolver até o fim.
Mas as qualidades do filme superam os deslizes e, sim, é possível ver qualidades impressionantes. A começar pelo elenco, onde brilham Taraji, Janelle e Octávia, esta última indicada pela segunda vez ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante (ela venceu em 2012 por Histórias Cruzadas). Justiça seja feita, a indicação deveria ir para a cantora Janelle Monae, estreando nos cinemas, mas com um brilho excepcional. Kevin Costner e Kristen Dunst não decepcionam, inclusive ela surpreende em um papel mais contido e mais real. Mahershala Ali, de Moonlight, brilha nas poucas aparições (que ator bonito, não?). O único ponto fora da curva é Jim Parsons que, nada mais é, em cena, que seu personagem Sheldon, de Big Bang Theory, sem a camiseta de super-herói.
Outro ponto a se destacar no roteiro é como ele coloca as protagonistas driblando o racismo institucional sem que haja a interferência de personagens brancas: Katherine decide por conta própria assinar seus cáuculos, Dorothy aprende, sozinha, a dominar os complicados computadores IBM que irão substituir seu trabalho, e Mary decide se candidatar a uma vaga de engenheira, em vez de auxiliar. Aliás é de Mary uma das melhores falas do longa: “Cada vez que uma de nós chega perto de ultrapassar uma barreira, eles vão e mudam a barreira de lugar”.
O filme de Theodore Melfi tem, em quantidades iguais, méritos e defeitos, o que não o desqualifica. É um passo importante para que a representatividade negra em Hollywood – bastante discutida desde a ausência de profissionais negros no Oscar do ano passado – seja algo real. E o filme tem o mérito de falar sobre racismo tendo pessoas negras como sujeitos e não objetos, como o problemático Histórias Cruzadas. É uma obra importante fazer justiça a essas mulheres ocultas pela história (olha, isso daria um título melhor, hein?) e por trazer novos elementos ao debate. Mas lhe faltou arrojo para ser um filme contundente.