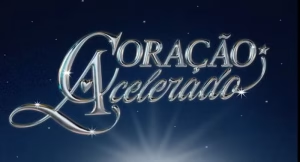‘Ghost in the Shell’: um filme de reflexão
‘Ghost in the Shell’ é um filme sobre pura reflexão a respeito do que somos e do mundo em que vivemos


Toni Nascimento
A alma e o espírito sempre foram definições difíceis para a compreensão humana. Além do nosso corpo físico, somos a união dos nossos pensamentos, sensações, personalidade e, principalmente, uma consequência de nossas memórias. A soma destes inúmeros fatores – que aqui estão totalmente à parte de qualquer associação a divindade e religião – resulta na nossa essência. Mas será que essa essência por si só é a nossa alma? O que é a alma? Mas se não tivéssemos um corpo humano e por acaso habitássemos qualquer outro receptáculo, como uma máquina de lavar ou até uma pedra, ainda assim seriamos humanos e teríamos uma alma? Desses questionamentos, vive o filme A Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell.
A ficção científica dirigida por Rupert Sanders, que estreou no último dia 30 de março e tem uma hora e 47 minutos de duração, conta a história da Major Mira Killian, vivida por Scarlett Johansson, que teve seu cérebro transplantado para um corpo inteiramente construído pela Hanka Corporation, transformando-a em uma ciborgue, e que logo passa a integrar a seção 9, um departamento da polícia que combate o ciberterrorismo e outros crimes, ao lado do parceiro Batou (Pilou Asbaek), com seus incríveis olhos biônicos, e do comandante Aramaki (Takeshi Kitano) com seu cabelo estiloso.
A história se passa depois do ano de 2029 em uma época que é bastante natural o aperfeiçoamento do corpo humano a partir de inserções tecnológicas. É completamente normal todo ser humano que habita aquele universo megaglobalizado fazer um melhoramento no seu corpo, seja um implante de um novo braço ou uma nova perna, até um up grade no fígado para se tornar mais resistente ao álcool. Se ao tornar o corpo mais mecânico já seria passível do questionamento, o que dizer então de transferir a consciência humana totalmente para um corpo mecânico?
Ghost in the Shell se beneficia de toda a filosofia e do tom cyberpunk herdado do mangá (1989), do anime original (1995) com mesmo nome e até das continuações cinematográficas e televisivas do universo, mas consegue ser único de uma maneira muito positiva. Apesar de surpreendentemente manter momentos de pura contemplação e dúvida existencial – como o mergulho da Major em um lago para pensar sobre a vida e “achar esperança no fundo escuro e frio” –, a relação dela e do parceiro com os cachorros de rua para discutir humanidade e suas relações e os longos planos áreos sobre a cidade mostrando o ambiente em que a história se desenrola (tudo isso dá consistência ao roteiro, indaga o telespectador e contribui para a evolução da personagem principal), ele cria uma identidade visual muito única e particular, distante do que já foi produzido e às vezes muito próximo do clássico cinematográfico Blade Runner, O Caçador de Andróides (1982).
O filme é uma dádiva aos olhos. Com hologramas publicitários gigantes que se movimentam dentro de suas definições HDs no meio da cidade, em todos os seus cantos e lugares, tal estética não é gratuita. Além de marcar o público – que se assistir em uma sala de cinema melhorada como as XD (Cinemark) ou Macro XE (Cinépolis) ficará com todas aquelas cores e aqueles efeitos durante horas ou dias na cabeça –, ela é uma das representantes da evolução da globalização e unificação do mundo (que também é representada pela diversidade étnica dos atores e dos figurantes) e do império das marcas que, além de controlar tudo, controla os seres humanos e os classifica como mercadoria.
O ser humano como uma mercadoria é outra reflexão central do filme, muito bem desenvolvida pela atmosfera e pelas circunstâncias criadas, como o fato de a comunicação feita mentalmente e o poder de acesso as memórias e aos pensamentos dos outros, como se o cérebro fosse um produto que pode ser manobrado e possuído se for necessário, abrindo portas para se discutir até que ponto o poder governamental e empresarial tem sobre o corpo humano, seus pensamentos e suas memórias, e principalmente, sobre a sua alma.
Ainda assim, Ghost in the Shell comete o mesmo erro que a maioria dos grandes blockbusters (filme ‘arrasa quarteirão’, de grande orçamento) de Hollywood: se entrega a lutas escapistas de grande apelo visual que foge da verdadeira discussão introduzida no ato final (terceiro ato) do filme que destoa completamente dos dois primeiros atos. Além disso, a tentativa de criar uma franquia com um gancho, no fim, não acontece de maneira orgânica, deixando a sensação de que o filme não se basta e não justifica a existência individual.
Outro ponto fraco é a atuação fraca de Scarlett Johansson que, acostumada a papéis de mulher badass no cinema, parece já ter entrado no modo automático, e, mesmo quando tenta mostrar o lado reflexivo da personagem, não consegue êxito por ficar presa em uma expressão silenciosa, que não passa o que deve ser sentido.
Apesar dos deslizes de atuação e da tentativa de lucrar sem limites dos empresários cinematográficos ao querer transformar tudo em franquias, Ghost in the Shell acerta ao se assumir como uma adaptação e não uma réplica literal de um produto que deu certo. E, além disso, o longa mostra que é possível fazer o grande público fazer indagações sobre sua situação como humano e sobre o mundo que o cerca. Tudo isso envolto em imagens impactantes e belas, assim como o mistério ao redor da alma.